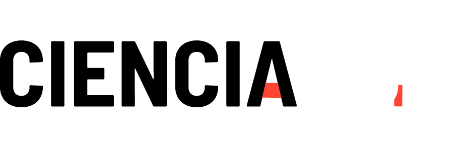Continuidade física do “eu” – Nosso corpo sofre mudanças enormes de tamanho e proporção ao longo do tempo e, mesmo assim, continuamos a ser “os mesmos”.
Também na Grécia antiga, no pórtico do Oráculo de Delfos, estava gravado na pedra: “Conhece-te a ti mesmo”. A este respeito, ocorre um probleminha que talvez você, leitor, nunca tenha parado para analisar. Exatamente quem é você? Em que sentido você tem permanecido a mesma pessoa durante toda a sua vida?
Uma possível resposta de sua parte seria: “eu sou meu corpo”. Mas seu corpo hoje é com certeza totalmente diferente daquele da sua infância e você ainda continua a se considerar “você”. Como explicar a continuidade do “eu” físico se tudo muda o tempo todo?
O pensador grego Plutarco (45-125?) já filosofava sobre esse problema, usando como modelo o navio do herói grego Teseu, que foi preservado após a sua morte. Ao longo do tempo a madeira foi apodrecendo e as tábuas foram sendo substituídas até que não sobrou nenhuma das originais. A questão é: a estrutura com nova madeira ainda é o “navio de Teseu”?
Essa charada continuou a ser debatida apaixonadamente muito após Plutarco. Por exemplo, o filósofo empirista inglês John Locke (1632-1704) aplicou um raciocínio análogo a um furo que apareceu em sua meia preferida. Será que a meia manteria sua identidade após remendada? E seria ainda a mesma após todo o tecido original ser substituído por remendos?
Continuidade física e psicológica
Na tentativa de se esquivar desses paradoxos e como uma alternativa à continuidade física, você pode querer optar pela continuidade psicológica e argumentar “eu sou minha mente”, o conjunto de minhas experiências e memórias. Mas se você desenvolver uma amnésia ou doença de Alzheimer, deixará de ser você? Para complicar, a maioria dos filósofos e neurobiólogos concorda hoje que a mente não existe como uma entidade separada do corpo (mais especificamente do cérebro).

A pintura icônica A persistência da memória , feita em 1931 pelo surrealista catalão Salvador Dalí (1904-1989), representa a passagem (e a relatividade) do tempo usando as famosas imagens dos “relógios moles”.
Pense bem: se você trocar o cérebro de uma pessoa pelo de outra, você fez um transplante de cérebro ou um transplante de corpo?
Uma de minhas revistas prediletas, Philosophy Now , dedicou seu número de julho/agosto ao problema da persistência da identidade pessoal no contínuo espaço-tempo. Achei que esse seria um bom tópico para a coluna deste mês, inclusive por ser relacionado com o fato, discutido no artigo do mês passado , de que 90% das células do nosso corpo são bactérias e conseqüentemente não são propriamente parte integral de “nós”. Ou são?
De qualquer maneira vou invadir a praia dos filósofos, metendo meu bedelho neste quebra-cabeça milenar. Faço-o com certa trepidação e desde já convido o leitor a debater minhas idéias.
Como porções do mundo externo se tornam “nós”
Vale a pena lembrar que iniciamos nossa vida após a fertilização como uma célula única com uma massa de aproximadamente 1 nanograma, mas ao nascer já temos cerca de 3 quilos (um aumento de massa de um trilhão de vezes!). De onde vem todo esse material? Ele vem do ambiente, é lógico, via nossas mães. Durante o processo gestacional, nosso genoma fornece a informação necessária para rearranjar as moléculas elementares providas pela nutrição materna e transformá-las em nós mesmos.
Após nascer, continuamos a crescer, apropriando mais massa do mundo exterior para o nosso corpo (desta vez por meio da nossa própria nutrição), sempre de acordo com os ditames organizacionais do DNA no nosso genoma.

Capa do fascículo de julho/agosto de 2007 da revista Philosophy Now , dedicado a discutir a persistência da identidade pessoal ao longo do tempo. A revista inglesa discute questões filosóficas de maneira simples e accessível, sem abrir mão do rigor acadêmico.
Mesmo após chegarmos à vida adulta o processo não pára. O professor Michael Allen Fox, da Queen’s University, no Canadá, apresenta na Philosophy Now dados, baseados em estudos de carbono-14, do tempo gasto para alguns tecidos do nosso corpo serem substituídos. O epitélio de nosso intestino é renovado a cada poucos dias; a pele, a cada duas semanas; as células vermelhas do sangue, a cada 120 dias; e os ossos, a cada 10 anos. Por outro lado, o sistema nervoso central, incluindo o nosso precioso córtex cerebral, não se regenera. Mas certamente os átomos que constituem o cérebro mudam completamente com o tempo. De qualquer maneira, tudo mantém uma organização que, em última análise, emerge do nosso genoma.
Será, então, que encontramos a chave do mistério? Poderia ser que solucionamos o problema milenar da filosofia se adotarmos o genoma como a fonte da nossa continuidade individual?
Infelizmente acho que não, pois há uma série de objeções. Por exemplo, gêmeos idênticos têm genomas idênticos e ainda assim são pessoas bem diferentes. Eles diferem na sucessão de ambientes que experimentaram (suas histórias de vida). O ambiente torna-se, assim, um co-determinante crítico de nossa identidade. Adicionalmente, como discutimos em uma coluna anterior , o próprio genoma pode ser modificado epigeneticamente por influência do ambiente.
O duo dinâmico: genoma e cérebro
Theodosius Dobzhansky (1900-1975), nascido na Ucrânia, foi um dos grandes evolucionistas do século 20 e um dos alicerces do neodarwinismo (“nova síntese”). Como é bem sabido, ele teve várias passagens pela USP na década de 1940, influenciando indelevelmente a evolução de toda a genética brasileira. Um livro dele de 1970 – Genética do processo evolucionário – que li, ainda estudante, condicionou fortemente minha formação intelectual.
Mais importante ainda foi seu excelente opúsculo de 1956, que tem o lindo título de The biological basis of human freedom (‘As bases biológicas da liberdade humana’). Foi ali que aprendi com Dobzhansky que o meu fenótipo (quem sou, incluindo meu corpo, meu intelecto, minhas emoções e minhas memórias) é a cada momento determinado pelo meu genótipo e pelas minhas experiências de vida.
O meu genótipo está fisicamente armazenado no meu genoma. Por outro lado, a minha história de vida (a sucessão de ambientes, lato sensu , por que passei durante minha existência) está registrada epigeneticamente no meu genoma e também no meu corpo e nos arranjos sinápticos do meu cérebro. Em analogia com o contínuo espaço-tempo de Einstein, arrisco a sugerir que o locus da identidade pessoal humana é o contínuo genótipo-ambiente.
Fecho aqui com um poema de um dos “eus” de Fernando Pessoa (a persona de Álvaro de Campos):
“Eu…
Tive um passado? Sem dúvida…
Tenho um presente? Sem dúvida…
Terei um futuro? Sem dúvida…
A vida que pare de aqui a pouco…
Mas eu, eu…
Eu sou eu,
Eu fico eu,
Eu…”
Sergio Danilo Pena
Professor Titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia
Universidade Federal de Minas Gerais
14/09/2007