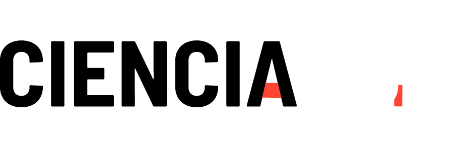Desde que comecei a acompanhar noticiários televisivos, mais ou menos na época em que Israel invadiu o Líbano, em 1982, ouço a expressão “crise no Oriente Médio”. Ela vale para tudo, de conflitos entre palestinos e israelenses a alta nos preços dos barris de petróleo. Isso sem falar no crescimento do fundamentalismo islâmico, fenômeno, aliás, que poderia estender – indevidamente – a definição de ‘Oriente Médio’ até o Paquistão.
Por isso, não consigo evitar o desconforto ao ouvir, mais uma vez, que o Oriente Médio está em crise, como se este fosse o estado natural da região, e como se ‘Oriente Médio’ fosse uma unidade em si.
Seja o que for que esteja acontecendo em países como o Egito, Bahrein, Tunísia e Líbia, é totalmente diferente do que aconteceu antes, ao menos nos últimos 30 anos. Precisamos achar expressão melhor.
Se ‘Oriente Médio’ é generalizante demais, o mesmo se aplica a explicações do gênero “crise do nacional-estatismo revolucionário”, como escutei outro dia no rádio. O comentarista estava se referindo à Líbia, em função do regime implantado por Muamar Kadafi em setembro de 1969, que nacionalizou as companhias de petróleo – o país é um dos maiores produtores mundiais do ouro negro – e se apresenta como uma alternativa ao socialismo e ao capitalismo com pitadas de islamismo, mesmo tendo recentemente se aproximado dos Estados Unidos.
Mas o cenário descrito não engloba o Egito, politicamente isolado na região desde o assassinato do ex-presidente militar Muhammad Anwar Al Sadat, em 1981, justamente por conta das aproximações com Israel e o Ocidente.
Poderíamos argumentar que, a despeito das diferenças nos regimes políticos e da maior ou menor aproximação com o islamismo, a falta de empregos, perspectivas e direitos civis unificariam as demandas dos jovens de classe média de países como o Egito e a Tunísia. Mas aí, venhamos e convenhamos, não seriam apenas estes que estariam em revolta. Ou então seriam todos os países árabes – o que também não é o caso.

- Manifestantes apelam para a não intervenção estrangeira nos conflitos da Líbia. O país vive clima de violência devido a tentativas de destituir o governo Muamar Kadafi. (foto: Frank Rafik – Al Jazzera/ CC BY-NC-SA 2.0)
Fugindo das obviedades
Fico com a impressão de que avançaremos mais na compreensão dos acontecimentos recentes no mundo árabe se duvidarmos um pouco das respostas prontas. Afinal, há quanto tempo esses países convivem com desemprego e falta de confiança no Estado?
Não é de hoje que o governo da Líbia abusa de seus cidadãos. Por que os protestos teriam eclodido exatamente agora? Por causa das redes sociais, que teriam libertado o descontentamento da população sufocado há décadas – a mesma população, aliás, que nas décadas de 1950 e 1960 apoiava os projetos modernizantes, autoritários e nacionalistas de boa parte do mundo árabe?
E por fim: estamos diante de uma revolução, como a francesa (1789) ou a russa (1917), em que longas crises econômicas, hierarquização e estratificação social deram origem a violentas mudanças na estrutura de poder, questão levantada recentemente pelo historiador Robert Darnton? Ou não?
Do lado de cá do mundo, o aspecto que mais chama a atenção nos protestos é a atual forma de mobilização, via internet e redes sociais, que levou muita gente a crer que, no fundo, os protestos no Egito foram gerados pelo corte do acesso à rede mundial de computadores.
Seriam, então, reivindicações por participação naquilo que há de mais sedutor no mundo ocidental, consumo e facilidade de comunicação. É um poder que nem o próprio Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, imaginou ter criado.
Embora reconheça a extraordinária vocação mobilizadora das redes sociais, importantes como meio de veiculação de notícias e insatisfações, não podemos esquecer que os protestos pouco tiveram de virtuais. Aconteceram à moda antiga, com gente de verdade sendo presa de verdade.
Veja vídeo com imagens da praça Tahir, no Egito, tomada por manifestantes em janeiro de 2011
Que o diga Wael Ghonim, diretor de marketing do Google no Egito. Ou a ativista Esraa Abdel Fattah, conhecida como Facebook Girl, que ficou 18 dias presa por usar a rede social para organizar protestos em solidariedade a trabalhadores em greve na cidade industrial de Mahalla.
Na ultima sexta-feira, de acordo com texto publicado no blogue da New York Review of Books, Esraa distribuía panfletos, de papel, expressando sua preocupação com o futuro do movimento, que estaria apenas começando com a queda de Mubarak: “Precisamos retornar à praça Tahir. Nossa força está lá”.
Compreensão sem previsão
Por outro lado, embora o Ocidente simpatize com os jovens de classe média que lutam por emprego, direitos e liberdade, é impossível deixar de ver o aspecto religioso dos protestos, o que não significa, evidentemente, que os manifestantes apoiem o extremismo fundamentalista.
Mas a presença da Irmandade Muçulmana – principal grupo opositor ao regime de Mubarak – nas manifestações não pode ser minimizada. Muito menos a participação desse grupo em futuros governos da região deve ser descartada.
Embora em contexto completamente diferente, não podemos nos esquecer que a revolução no Irã, em 1979, tinha em sua origem um forte componente laico, quando grupos liberais e de esquerda uniram-se a religiosos para depor o xá Reza Pahlevi, responsável por uma monarquia tirana e opressora. Hoje, os mesmos liberais estão sob o jugo do aiatolá Khomeini, que comanda um regime igualmente tirano e opressor.
O fato é que se ainda temos, hoje, poucos elementos para entender acontecimentos tão recentes, menos ainda podemos prever seus desdobramentos futuros. Este é um daqueles momentos em que parece que o tempo passa mais rápido, e os acontecimentos tomam de assalto o curso normal da história – se isso existisse.
Talvez a primeira lição que podemos tirar de tudo isso seja que é impossível conhecer de antemão o rumo dos acontecimentos. A história é feita da ação humana, individual e coletiva, imprevisível por definição, e é isto que torna seu estudo tão fascinante.
Ninguém previu a queda do Muro de Berlim em 1989, ninguém previu o fim da União Soviética em 1991. E quem poderia dizer que os protestos da Tunísia gerariam efeitos tais? Qualquer um que se arrisque a prever os acontecimentos do dia seguinte terá de se desmentir no telejornal da madrugada.
Keila Grinberg
Departamento de História
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro