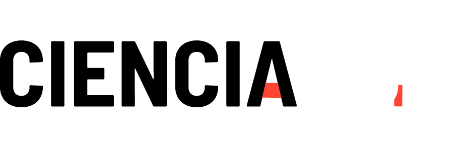Israel responde aos sistemáticos ataques de foguetes lançados por palestinos contra seu território com bombardeios violentos. A notícia pode parecer velha, mas os ataques em questão aconteceram entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009, quando teve início mais um triste capítulo da guerra que há décadas envolve israelenses e palestinos e que parece não ter fim.
Peter Demant, professor do Departamento de História da USP e estudioso da questão Israel-Palestina (foto: Francisco Emolo – USP/ CCS/ DVIDSON/ Argus Documentação).
A ofensiva ocorreu na Faixa de Gaza, território atualmente controlado pelo grupo radical Hamas, que, em 2006, foi eleito pela população local para governar a região, mas que é considerado terrorista pelo governo de Israel e por grande parte da comunidade internacional. Depois de 22 dias de conflito, Israel declarou um cessar fogo unilateral. A situação, no entanto, permanece tensa nessa parte do Oriente Médio. Haverá solução?
Para tentar responder a essa pergunta, a Ciência Hoje conversou com o historiador Peter Demant, da Universidade de São Paulo (USP). Professor do Departamento de História e autor, entre outros livros, de O mundo muçulmano (editora Contexto), Demant também leciona no Instituto de Relações Internacionais (IRI) da USP e, durante a década de 1990, foi pesquisador do Instituto de Pesquisas para o Avanço da Paz Harry S. Truman, da Universidade Hebraica de Jerusalém, onde esteve ativamente envolvido com os diálogos Israel-Palestina.
Mariana Ferraz
Especial para a CH On-line
04/03/2009
O conflito entre israelenses e palestinos vem sofrendo mudanças ao longo dos anos. Qual, a seu ver, foi a mudança mais profunda?
Vejo três transformações fundamentais. A primeira, e provavelmente a mais fundamental de todas as mudanças, diz respeito à questão do reconhecimento mútuo. Para se obter a paz, ou alguma resolução entre dois grupos que estão em combate durante tanto tempo, é preciso o reconhecimento de um para com o outro. É necessário que cada lado reconheça que o outro tem o direito de existir. Ora, desde a primeira metade do século passado e até os anos 1990, não houve nenhum reconhecimento mútuo.
Isso mudou quando Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, de Yasser Arafat (1929-2004), mutuamente se engajaram em um processo de paz que culminou no reconhecimento. São os famosos acordos de Oslo, que foram acertados em 1993 entre Yitzhak Rabin, então premiê de Israel, e Yasser Arafat, o líder palestino, com a mediação do [ex-presidente dos Estados Unidos] Bill Clinton. Esse processo de paz implodiu em 2000, quando fracassou a Cúpula de Camp David.
Desde o fracasso em 2000 do processo de paz que decorreu desse encontro, tem, porém, acontecido algo que, na época, eu não acreditei que pudesse existir: um ‘desreconhecimento’ de ambos os lados. A radicalização palestina decorrente do fracasso das negociações e uma paralela extremizacão antipalestina do lado israelense se nutrem mutuamente. Como resultado, temos hoje de um lado Israel e, de outro, o fator palestino mais forte, que é o Hamas, como antagonistas que não se reconhecem. Em consequência, quase não mais é possível negociar uma saída pacífica. Essa é uma transformação importantíssima.
A segunda transformação é ligada à globalização e ao papel da mídia, que faz com que hoje tenhamos que lidar com a “beligerância assimétrica”. Embora Israel seja militarmente muito mais forte que o lado palestino, é difícil cada vez mais para Israel traduzir em realizações políticas essa superioridade.
Em terceiro lugar, e mais recente, é o processo de nuclearização do Irã, que tem um regime com elementos irracionais, que abertamente chama para a destruição de Israel. Quando o Irã alcançar o limiar nuclear, vai roubar de Israel o seu monopólio nuclear, transformando os dados do conflito.
O que mudou quando o conflito deixou de ser uma disputa por terra e passou a ser um embate religioso?
Na minha leitura, o conflito ainda é essencialmente um conflito nacional. Trata-se de duas populações que se batem por um mesmo pedaço de terra. Porém, o conflito recebeu, nas últimas décadas, cada vez mais significações religiosas. Em termos muito gerais, eu diria que a entrada da religião dificulta a resolução do conflito de forma ímpar, porque a religião implica justificativas transcendentais para a continuação do conflito, tanto do ponto de vista dos fundamentalistas muçulmanos quanto dos fundamentalistas judeus. Uma suposta proibição divina contra uma solução de meio termo, ou seja, de partilha do território em dois Estados, impossibilita a única solução política que pode funcionar aqui na Terra.
A religião dificulta justamente a questão do reconhecimento mútuo que o senhor destacou?
Exatamente, não se pode resolver o conflito sem reconhecimento, mas o reconhecimento e as inevitáveis concessões mutuas são muito mais difíceis para grupos absolutamente convencidos de que eles têm um “fio direto com o ente supremo”, a convicção de que esse ente dita que não se pode chegar a um meio-termo com o inimigo.
Esse meio-termo é a criação de dois Estados, um árabe-palestino e um israelense-judeu?
Sim. Este é quase o consenso internacional. E pesquisas de opinião pública mostram também que, tanto entre a população israelense quanto entre a população palestina, a maioria é a favor da criação de dois Estados como solução. Essa me parece a única saída possível, embora seja cada vez mais difícil de implementar.
Para Peter Demant, a política de assentamentos de Israel e a falta de vontade política de ambos os lados estão entre os principais obstáculos para a criação de dois Estados para resolver o conflito Israel-Palestina (foto: Francisco Emolo – USP/ CCS/ DVIDSON/ Argus Documentação).
O que tem impedido que essa proposta seja posta em prática?
Existem dois tipos de obstáculos. O primeiro são os obstáculos físicos. A política de assentamentos de Israel está transformando fisicamente o substrato territorial do conflito, o que dificulta cada vez mais o estabelecimento de um estado palestino ao lado de Israel. Dificulta, mas não totalmente impossibilita. O outro são os obstáculos políticos. Nós sabemos bastante detalhadamente como seria essa solução. De fato, em 2000, o governo israelense e a liderança palestina quase chegaram, na Cúpula de Camp David, a assinar um acordo. Então, o que falta é a vontade política.
Terrorismo de um lado e represálias violentas do outro têm, nos últimos anos, solapado o pouco de boa vontade que ainda sobrara. Para viabilizar uma retomada das negociações de paz, precisaríamos ter, simultaneamente, em Israel e entre os palestinos, lideranças comprometidas com essa fórmula de partilha territorial, com algum domínio conjunto israelo-palestino sobre Jerusalém, uma troca de territórios para resolver a questão dos assentamentos, um acordo sobre os refugiados palestinos etc. E essas lideranças também teriam que ser fortes o suficiente para controlar, e se necessário reprimir, oposições violentas a essa solução. Por enquanto isso não se realizou, é difícil entrever como se alcançaria essa solução de dois Estados.
Como o senhor avalia a influência do conflito na região?
As consequências são diferentes para a Jordânia, o Líbano, o Egito etc. Em termos gerais, há no mundo árabe uma maioria de países com regimes elitistas e autoritários, para os quais o conflito é quase o pretexto ideal para postergarem as transformações modernizadoras necessárias: justiça e desenvolvimento socioeconômicos, democratização política, emancipação da mulher, abertura cultural etc. Tudo isso é adiado para um futuro indeterminado, pois ‘antes é preciso resolver o conflito com Israel’.
Factualmente, o conflito perpetua os sistemas autoritários no Oriente Médio, o que, por si, adiciona mais um obstáculo para sua resolução. Mas a não-resolução só piora as coisas. As oposições mais fortes no mundo árabe hoje são islamistas: fundamentalistas muçulmanos extremamente antissionistas e, muitas vezes, antissemitas. Quanto mais perdura a inaptidão dos governos oficiais em resolver o conflito, mais se fortalecem essas oposições islamistas. Isso para Israel não é um sinal muito positivo.
Então não seria, de certa forma, um equívoco de Israel fazer investidas como a realizada entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009 na Faixa de Gaza?
É preciso entender que a recente invasão de Gaza não é um elemento de resolução do conflito, foi simplesmente uma resposta militar contra uma série de ataques palestinos. Mesmo que esses ataques do Hamas sejam menos letais que os contra-ataques de Israel, ainda assim eles assustam de forma quase permanente a população civil israelense. Isso se traduz em uma pressão popular para “fazer alguma coisa” contra os foguetes lançados pelos palestinos.
Já que o Hamas recusou prorrogar o cessar-fogo, uma ação israelense era quase inevitável. Apesar de todas as destruições e mortos, o ataque contra o Hamas é limitado e pontual e é questionável se chegará a deter o Hamas no futuro. Porém, não vejo como ele vai adicionar algo para a busca de uma solução pacífica e mutuamente satisfatória do conflito. A reação israelense não é injustificável, mas é importante enfatizar isso: é algo meramente reativo. Para promover uma solução do conflito, é necessária uma iniciativa pró-ativa.
Apesar das várias intervenções da comunidade internacional, o conflito continua. O senhor diria que essa comunidade perdeu sua influência?
Não acho que a perda de influência da comunidade internacional seja definitiva ou fatal. É verdade que essa comunidade é muito dividida e sobrecarregada por uma proliferação de problemas de todo tipo no mundo inteiro, o que faz do Oriente Médio apenas mais um desses problemas. A relativa ineficiência atual das grandes potências e da ONU [Organização das Nações Unidas], a ausência de qualquer intervenção internacional efetiva se relacionam com o fato de que é preciso arriscar alguma coisa para ter influência. Você não vai ter influência se não apostar.
Só declarações, avisos ou ameaças verbais não vão mudar muita coisa na região. Apenas se avisos e ameaças forem fortalecidos e garantidos por sanções, caso os beligerantes não obedeçam à vontade da comunidade internacional, apenas assim eles podem ter um efeito maior. Mas isso implicaria um cenário de intervenção militar. E aí surge imediatamente a pergunta: quem vai fazer essa intervenção? Quem vai colocar em perigo a vida de seus soldados para separar israelenses e palestinos?
Os Estados Unidos, a única potência que tem os meios e a confiança de Israel, já estão com duas grandes intervenções, no Iraque e no Afeganistão, e nenhuma das duas hoje é muito popular entre a população norte-americana, e ainda menos no próprio Oriente Médio. A União Europeia e a ONU são consideradas como pró-palestinas demais para mediar entre as partes, mas é ainda mais difícil visualizar uma intervenção militar delas contra Israel. Temos hoje uma comunidade internacional que tem ainda vestígios de prestígio moral, mas está ‘sem dentes’. Sem instrumentos efetivos, inclusive militares, ela dificilmente pode fazer valer sua vontade – mesmo na hipótese de um consenso global sobre o que se deveria fazer…
O senhor acha que o cessar-fogo atual vai durar?
Vejo ele como algo extremamente frágil, mas na conjuntura atual é quase impossível fazer previsões. Sou pessimista, porque, provavelmente o Hamas, por motivos internos de prestígio, pode achar que precisa continuar o lançamento de foguetes contra Israel. Especula-se que o Irã vai rapidamente fornecer os meios militares ao Hamas. E, se isso acontecer, sem dúvida, Israel vai novamente reagir e o jogo vai recomeçar. Nesse caso, o que vemos hoje não vai ser o começo de um processo de paz, mas só uma pausa pontual em um conflito não resolvido.