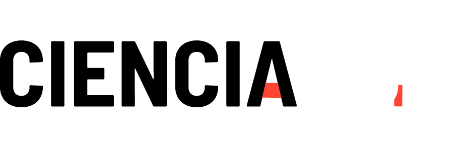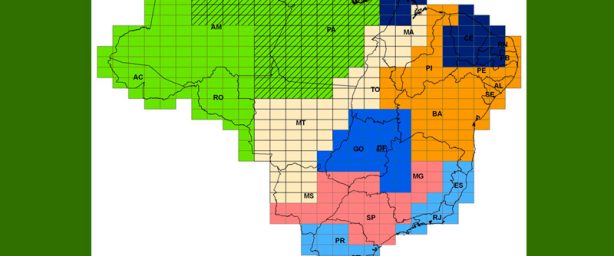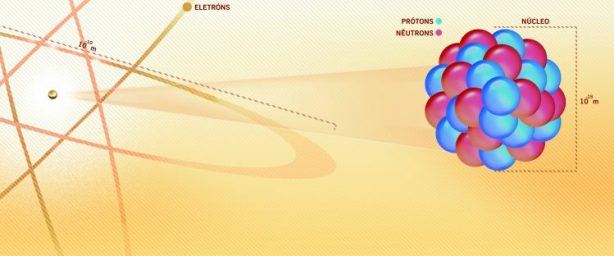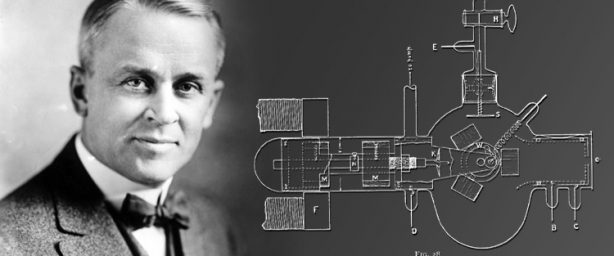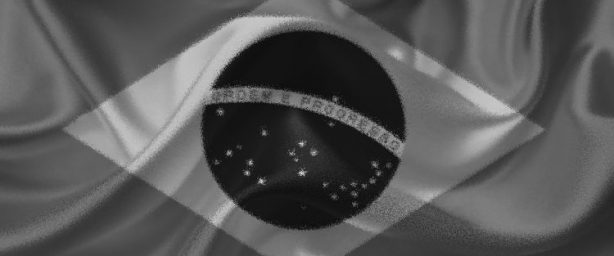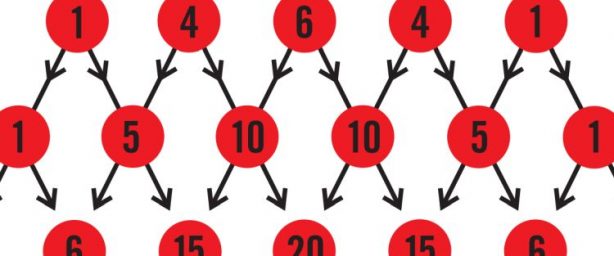A teoria de que vitaminas antioxidantes poderiam prevenir doenças cardiovasculares já era proposta desde meados do século passado. A ideia parecia sólida, pois os danos provocados pelas espécies reativas de oxigênio (os radicais livres) sabidamente participam da gênese dessas doenças.
Além disso, na década de 1990, estudos observacionais mostraram que o consumo de vitamina E estava associado a uma incidência menor de doenças cardiovasculares. Em 1996, um ensaio clínico mostrou que a suplementação com essa vitamina diminuía em quase 50% o risco de infarto em homens com doença coronariana. No ano seguinte, 44% dos cardiologistas norte-americanos já receitavam rotineiramente vitaminas antioxidantes a seus pacientes.
A hipótese, porém, começou a fazer água. Inúmeros ensaios clínicos posteriores não replicaram os benefícios cardiovasculares da suplementação com vitamina E. Pior: alguns deles mostraram que ela poderia aumentar a mortalidade por certas causas.
No final da década passada, quase todas as hipóteses de benefícios da vitamina E haviam sido contrariadas por estudos maiores. Uma revisão de 2005 que analisou 19 trabalhos, envolvendo cerca de 135 mil pacientes, concluiu que o uso de altas doses da vitamina estava associado a um aumento de mortalidade e deveria ser abandonado.
Há um sem-número de histórias de teor semelhante na literatura biomédica. Antipsicóticos ‘de segunda geração’, que na década de 1990 eram tidos como amplamente superiores às drogas anteriormente disponíveis, parecem cada vez menos diferentes de seus antecessores.
Estudos recentes com antidepressivos considerados eficazes têm mostrado que essas drogas podem ser pouco melhores do que um placebo em casos de depressão leve a moderada. E trabalhos associando certos alimentos com a ocorrência de doenças específicas surgem a cada semana, contradizendo uns aos outros e quase nunca chegando a conclusões sólidas.
O que acontece?
Por vezes, a razão para mudanças de opinião na ciência médica são óbvias: os estudos iniciais haviam sido malconduzidos ou não eram controlados. Mas esse nem sempre é o caso. Um levantamento de artigos citados mais de mil vezes entre 1990 e 2003 na literatura médica – ou seja, a nata da pesquisa clínica – demonstrou que apenas 44% tiveram seus achados reproduzidos; dos demais, 14% foram contrariados por estudos posteriores; 14% mostravam resultados inflacionados; e 24% não tinham tido suas conclusões postas à prova.
Da mesma forma, metade dos 32 estudos publicados no prestigioso New England Journal of Medicine em 2009 testando uma terapia já em uso clínico concluiu que ela não era efetiva.
Como cientistas, fomos ensinados a crer que o método científico representa a maneira mais eficaz de comprovar a veracidade de uma teoria. Mas o panorama real é distinto: os resultados publicados em artigos científicos – que deveriam representar a fonte mais sólida de informação disponível – mostram-se frequentemente pouco confiáveis.

- Os resultados publicados em artigos científicos – que deveriam representar a fonte mais sólida de informação disponível – mostram-se frequentemente pouco confiáveis, alerta pesquisador. (ilustração: Caco Neves)
O que, afinal, estaria acontecendo?
Alguns levantariam a suspeita de fraudes ou interesses escusos – e, de fato, eles existem. Mas a freqüência de fraudes deliberadas na ciência – ou, pelo menos, a das que são descobertas – parece pequena. De cerca de 25 milhões de artigos disponíveis no PubMed (a base de dados biomédicos mais usada no mundo), só 2.047 (menos de 0,01%) constavam, no ano passado, como retratados – procedimento utilizado quando são descobertas falhas graves em um trabalho. Destes, em dois terços suspeitou-se de fraude.
Dessa forma, o número de fraudes deliberadas dificilmente explicaria a profusão de resultados que acabam não se mostrando verdadeiros. Para compreender o que se passa, assim, é preciso analisar o processo que conduz à publicação de um artigo, e o que leva um pesquisador a qualificar um achado experimental como representativo e publicá-lo.
Olavo Bohrer Amaral
Instituto de Bioquímica Médica
Universidade Federal do Rio de Janeiro