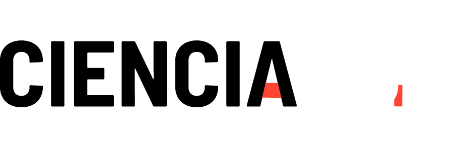O que uma das ilhas mais isoladas e inacessíveis do planeta revela sobre a humanidade?
O que uma das ilhas mais isoladas e inacessíveis do planeta revela sobre a humanidade?
CRÉDITO: ACERVO PESSOAL

Depois de mais de duas semanas velejando rumo a oeste, partindo do continente sul-americano, surge no horizonte a silhueta quase invisível do que um dia foi um vulcão – hoje um fino anel de terra, que mais parece uma folha de papel flutuando sobre a água. É um atol tão pequeno que, de ponta a ponta, pode ser atravessado em menos de uma hora a pé.
Trata-se da ilha Ducie, no Oceano Pacífico, uma das três terras mais próximas ao ponto Nemo — o local mais remoto de qualquer continente, literalmente o “ponto mais isolado do mundo”. Tão isolado que, frequentemente, os seres humanos mais próximos dali são astronautas, orbitando a Terra na Estação Espacial Internacional. Chegar à Ducie é tocar um limite: a sensação imediata é a de ter alcançado uma borda do mundo. Uma fronteira.
Mas, para quem coloca os pés sobre sua areia grossa, essa sensação de isolamento logo é substituída por um estranhamento. Porque entre os arbustos baixos, os ermitões e as milhares de aves que fazem da ilha seu lar, há também garrafas, escovas de dente, chinelos, pedaços de plástico. Lixo. Vindo do mundo inteiro, reunido no que seria “o meio do nada”.
A ilha mais remota do planeta carrega os rastros de todos nós. E é nesse choque – entre o símbolo máximo do isolamento e a presença inegável da humanidade – que a noção de fronteira começa a ruir.
Ao longo da história, o mundo foi recortado por fronteiras. Primeiro, vieram as físicas, separando continentes, oceanos, nações. Depois, surgiram as simbólicas: barreiras invisíveis que se estenderam para o modo como pensamos, sentimos e conhecemos. Fragmentamos os saberes. Divorciamos o que antes era um casamento próspero e intuitivo: razão e imaginação, ciência e arte, ser humano e natureza. Perdemos a consciência de que tudo está interligado, inclusive nós mesmos.
Ducie é, nesse sentido, uma representação física dessa divisão: um ponto no mapa que marca o “longe de tudo”, prova concreta de que não existe “longe demais”. Se o lixo humano chega ali, nada está realmente separado.
O acúmulo de resíduos em ilhas como Ducie não é, cientificamente, espantoso. Todas as ilhas posicionadas no centro dos grandes giros oceânicos (sistemas de correntes circulares que movimentam as águas do planeta) estão sujeitas ao mesmo destino. Os oceanos têm um sofisticado sistema de correntes marinhas que, por conta de fatores químicos e físicos, se movimentam como um motor natural, carregando resíduos plásticos lançados nos continentes e depositando-os em regiões remotas. No Pacífico Sul, o lixo encalha nas praias. No Pacífico Norte, forma as chamadas “ilhas de lixo”.

O ponto de interesse aqui, porém, não está só na mecânica das correntes, mas no que revela: uma interdependência radical, onde até o que descartamos chega aos lugares mais isolados. O oceano dissolve fronteiras porque é, em si, continuidade. E, por isso, existe uma oportunidade de investigar como a criação de fronteiras nos levou à crise planetária.
No século 19, o cientista e explorador Alexander von Humboldt (1769-1859) já observava essa continuidade. Ele viajou o mundo conectando saberes e percebendo como cada parte do mundo natural afetava o todo. Ao estudar o lago de Valencia, na Venezuela, Humboldt alertou que o desmatamento e o desvio de cursos d’água poderiam causar mudanças climáticas severas no futuro. Foi um dos primeiros a afirmar que a ação humana afetaria o clima de forma profunda. Foi também o primeiro a cunhar o conceito de natureza que compreendemos hoje.
O problema é que, com o passar dos séculos, fomos nos distanciando dessa visão integrada. O Iluminismo, a Revolução Industrial e a construção moderna das cidades priorizaram a racionalidade, o controle, a separação. A ciência ganhou precisão, mas perdeu mistério. Deuses foram colocados fora da Terra, e a natureza foi reduzida a recurso.
Essa separação se intensificou com a especialização do conhecimento. Mas nem sempre foi assim. Tales de Mileto (c. 624 AEC – 546 AEC), por exemplo, acreditava que a água era o princípio de tudo. Os primeiros pensadores não distinguiam filosofia de poesia, ciência de mito. Tales mesmo dizia que “todas as coisas estão cheias de deuses”. Isaac Newton (1643-1727), séculos depois, mesmo com seu rigor matemático, ainda via uma conexão profunda entre a Terra e o cosmos: sua lei da gravitação afirma que tudo atrai e é atraído, mesmo que um pouco, por tudo o que existe no universo. Como escreveu Marcelo Gleiser: “John Maynard Keynes (1883-1946) dizia que Newton não foi o pioneiro da idade da razão, mas foi o último dos mágicos.” E continua: “Ironicamente, a precisão da ciência newtoniana exorcizou a necessidade de um Deus. Após Newton, a natureza perdeu a sua alma.”
A ilha mais remota do planeta carrega os rastros de todos nós. E é nesse choque – entre o símbolo máximo do isolamento e a presença inegável da humanidade – que a noção de fronteira começa a ruir
Hoje, chamamos de “crise ambiental” o que talvez seja, antes de tudo, uma crise de relação. Um colapso do vínculo.
O termo Antropoceno, usado para designar esta nova época geológica marcada pelo impacto humano, escancara mais que o dano: revela nossa incapacidade de nos reconhecermos como parte da natureza.
E é aqui que dissolver fronteiras se torna urgente. Precisamos desfazer os muros entre saberes, entre o ser humano e o mundo natural, entre dentro e fora. Essa dicotomia – entre o que é externo e o que é interno – já foi tema de muitos filósofos.
Durante o Iluminismo, esse interior foi deixado de lado. Mas os românticos e os transcendentalistas mais tarde recuperaram essa dimensão: afirmaram que a única maneira de compreender a natureza era mergulhar dentro de si. Para eles, a reconexão com o mundo externo só seria possível pela via da emoção, da arte e da poesia.

Dissolver fronteiras, no fundo, é aprender a ver continuidade onde fomos ensinados a ver separação. É reconhecer que os saberes acadêmicos e os conhecimentos tradicionais falam, muitas vezes, da mesma coisa, com linguagens diferentes. A ciência nos mostra que tudo está interligado. E os povos originários sempre souberam disso. Como escreveu Mia Couto, sobre a linguagem nos países africanos: “Na maioria das línguas indígenas de Moçambique não existe uma palavra para ‘natureza’, meio ambiente. Isso não é ausência – é outra forma de compreender o mundo. Nós somos a natureza.”
Dissolver fronteiras é escutar isso com seriedade. É abrir espaço para que outras formas de ver o mundo nos ensinem a nos reconectar: com a Terra, com os outros e com nós mesmos. A linguagem, seja ela poética, científica, oral ou simbólica, tem o poder de reencantar. De curar. De mudar a perspectiva. Quando nos aproximamos da natureza com o coração aberto, algo muda: deixamos de enxergá-la como um recurso e passamos a vê-la como relação.
Curar nossa relação com o mundo natural é também curar algo em nós. E, ao perceber que somos parte desse todo vivo, passamos a enxergar a beleza e a magia que precisam (e merecem) ser protegidas. Estar em contato com a natureza, com o outro e com o próprio interior é, talvez, o primeiro passo para construir futuros mais conscientes, mais gentis, mais verdadeiros.
Humboldt também dizia: “o mundo exterior existia somente na medida em que o percebêssemos dentro de nós mesmos.” Por isso, visitar a ilha Ducie, ou ler sobre ela, não basta, se não nos movermos também por dentro.
A travessia que nos espera não é apenas geográfica. É simbólica, ética e afetiva. O que Ducie revela, no fim das contas, é que todas as linhas que traçamos são frágeis diante da força do fluxo natural. Que não há ponto final – há circulação. E que a ideia de separação é uma ilusão perigosa, que sustenta nossa crise atual.
Dissolver fronteiras é uma escolha. Um gesto. Um passo na direção de uma nova história. Recontar o mundo, sob outra ótica, é urgente: uma que reconheça as conexões, aceite os entrelaçamentos e repare os vínculos rompidos.
Porque não existe “meio do nada” quando tudo está em tudo.

*A coluna Cultura Oceânica é uma parceria do Instituto Ciência Hoje com a Cátedra UNESCO para a Sustentabilidade do Oceano da Universidade de São Paulo e com o Projeto Ressoa Oceano, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Adquirido em leilão por um empresário norte-americano e emprestado para exposição no Museu Americano de História Natural, o esqueleto de um dos estegossauros mais completos do mundo reacendeu a polêmica sobre a compra e venda de fósseis

Diante da ameaça de um mundo devastado pela extração desenfreada de recursos naturais, como o cenário dos filmes Mad Max, o reaproveitamento de um resíduo da produção de aço se destaca como alternativa sustentável para a infraestrutura ferroviária

É fundamental prevenir o sofrimento e promover uma vida satisfatória para que todos os animais – inclusive as espécies aquáticas –, estejam livres ou vivendo em sistemas de produção, laboratórios de pesquisa, zoológicos ou em nossos próprios lares

Cada vez mais, a economia circular deve se voltar para o ambiente marinho, com o objetivo de ter um oceano limpo, saudável e resiliente, previsível, seguro, sustentável e produtivo, transparente e acessível, e conhecido e valorizado por todos, como recomendam as Nações Unidas.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |