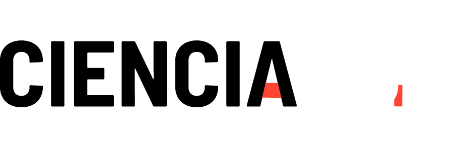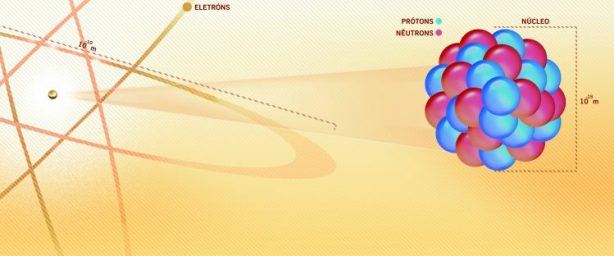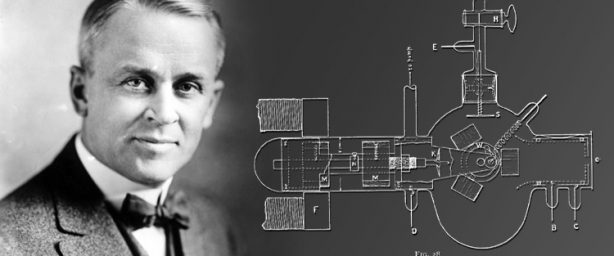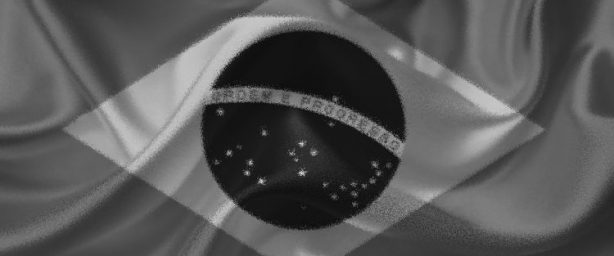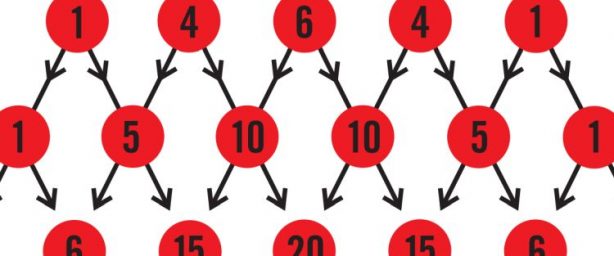Os humanos são pródigos na descoberta de motivos para a prática da letalidade. Matamo-nos uns aos outros, não tanto por força de imperativos naturais, mas em função de uma série incontável de motivos, entre os quais os derivados de crenças. Sobretudo, de uma crença básica. A de que os vitimados devem morrer, pois pertencem a um universo composto por sujeitos impuros, seres que, independentemente do que fazem, não são dignos de viver, em função de características que lhes são inerentes. Gente que deve ser posta fora do mundo.
O executor age tão somente segundo a lógica de um corolário: a vítima deve morrer não por algo que tenha feito, mas pelo simples fato do que não merece viver. Tal foi a lógica dos campos de extermínio nazistas, em sua expressão máxima, presente também nos inúmeros atos de faxina social, nos quais parecem ser diligentes as polícias brasileiras. A mesma lógica está presente na legitimidade autoconcedida a assassinos devotados à eliminação de ‘hereges’ e ‘infiéis’.
O velho tema da tolerância se impõe: tanto como alvo do ânimo letal doutrinário quanto como recurso para lidar com diferenças fundas. O tema, posto no século 17 pelo filósofo inglês John Locke (1632-1704), visava confinar a crença religiosa ao âmbito da convicção e da observância pessoais. Supunha-se que, restrita a religião à esfera pessoal e doméstica, os humanos se comportariam, em suas interações públicas, com base em princípios e práticas de respeito mútuo, dotadas de uma neutralidade básica com relação a valores últimos.
Assim, por exemplo, na interação comum da vida, um protestante e um católico não seriam obrigados a querelar sobre a verdade última da transubstanciação ou a questão da predestinação. Haveria um fundo comum – que o filósofo político norte-americano John Ralws (1921-2002) designou como “consenso sobreposto” (overlapping consensus), ou, segundo seu conterrâneo, o excelente filósofo Michael Walzer, “moralidade fina” (thin morality) – que a todos envolveria, em uma vida pública esterilizada de valores inegociáveis e de excessiva carga dogmática.
Um dos valores essenciais, presentes nessa esfera moral comum, é o da liberdade individual, em sua dimensão mais fundamental: liberdade de crença e de formulação de juízos. No século 18, tal liberdade, percebida como constitutiva e natural nos humanos, foi consolidada na ideia de autonomia do filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804). A vida social seria, pois, idealmente habitada por sujeitos moralmente autônomos, movidos por um imperativo categórico: o de não desejar para outros o que não desejariam para si mesmos. Tal imperativo funda-se em um princípio de equivalência: não importa o conteúdo de nossas crenças; somos equivalentes e há limites claros com relação ao que podemos fazer com outras pessoas. O próprio Kant acrescenta ao imperativo já mencionado o de jamais considerar os seres humanos como meios, mas sempre como fins.
No século 19, em luminoso livro, Sobre a liberdade, o filósofo inglês John Stuart Mill (1806-1873) forneceu um excelente argumento em defesa da tolerância. Argumento sustentado no princípio da ignorância universal dos humanos. Somos seres confinados em incontáveis circunstâncias particulares, a partir das quais pretendemos construir juízos de validade universal. Trata-se, mais do que de impostura, de um autoengano básico: tudo o que sabemos convive com zonas de sombra; cada acréscimo cognitivo abre o abismo de um campo sobre o qual muito ignoramos; quanto mais sabemos, mais ignoramos. Em suma, somos visceralmente incapazes de demonstrar a superioridade no campo dos valores últimos morais.
Relativismo? Nem tanto: o reconhecimento da ignorância deve conduzir à razoabilidade e à defesa da liberdade individual, duas cláusulas pétreas, portanto não relativas. Trata-se de bela fundamentação para a tolerância que, no entanto, deixa em aberta a questão: como tolerar os intolerantes?
Renato Lessa
Fundação Biblioteca Nacional
Instituto de Ciências Sociais
Universidade de Lisboa
Texto originalmente publicado na CH 322 (janeiro/fevereiro de 2015). Clique aqui para acessar uma versão parcial da revista.