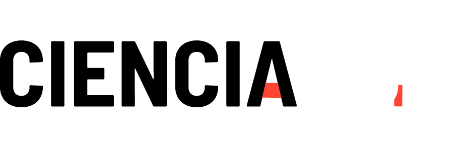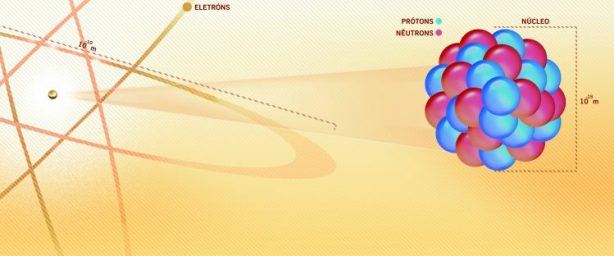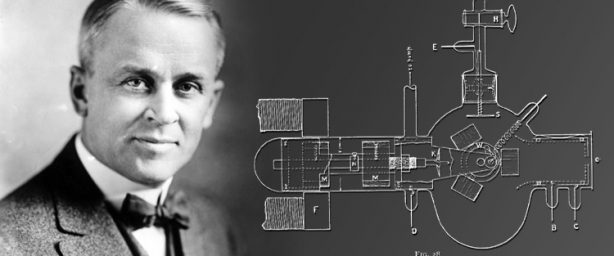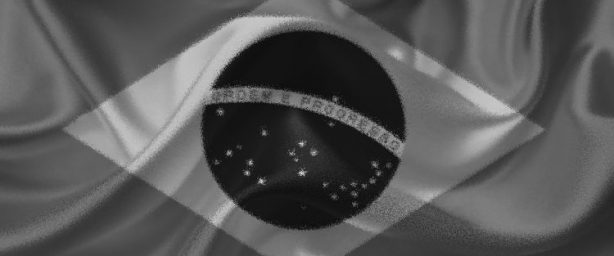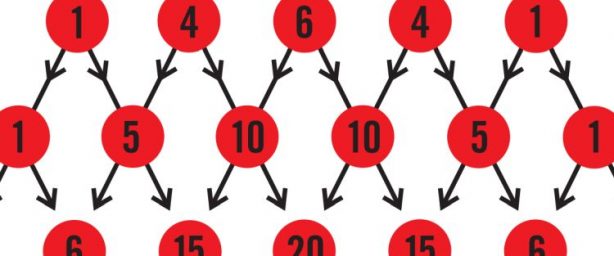Naquela manhã de setembro, Sari Hanafi se preparava para um passeio. Seu destino: uma favela carioca. “Talvez haja semelhanças entre as favelas e os campos de refugiados no Oriente Médio”, cogitou o pesquisador. Hanafi é um sociólogo palestino nascido no Líbano – mais especificamente, no campo de refugiados de Chatila, ao sul de Beirute. Sua primeira graduação foi em engenharia civil. Mas logo optou por seguir carreira em sociologia. A familiaridade com a matemática certamente veio a calhar, pois, em suas análises sociológicas, Hanafi não se intimida diante de assuntos como estatística, técnicas numéricas avançadas e mesmo linguagens de programação – temas pouco comuns para acadêmicos devotos das humanidades.
Professor da Universidade Americana de Beirute, além de vice-presidente da Associação Sociológica Internacional (ISA), Hanafi é considerado um dos expoentes da intelectualidade do mundo árabe. Ele está prestes a lançar seu novo livro, Arab research and knowledge society: an impossible promise, sem tradução prevista para o português, em que explora como o conhecimento científico transita entre a academia e a esfera política. Mas outro importante trabalho seu vai ganhar uma edição brasileira: é o artigo ‘Publicar globalmente, perecer localmente versus publicar localmente, perecer globalmente’, que será lançado em 2015 como parte da coletânea Práticas e textualidades: pensando a pesquisa e a publicação, da Editora FGV.
De passagem pelo Brasil, Hanafi divide com os leitores da Ciência Hoje algumas reflexões sobre a sociologia do mundo islâmico. E compartilha suas impressões sobre a atual cena política que se descortina no Oriente Médio neste início de século.
 Ciência Hoje: O senhor está prestes a lançar o livro Arab research and knowledge society: an impossible promise (Pesquisa árabe e sociedade do conhecimento: uma promessa impossível, em tradução livre). De que trata a obra?
Ciência Hoje: O senhor está prestes a lançar o livro Arab research and knowledge society: an impossible promise (Pesquisa árabe e sociedade do conhecimento: uma promessa impossível, em tradução livre). De que trata a obra?
Hanafi: Falamos sobre a produção de conhecimento no mundo árabe. No livro, abordamos os problemas e desafios dessa produção, e também analisamos como o conhecimento é traduzido para diferentes públicos.
Tratamos de todas as áreas científicas. Mas, na segunda parte da obra, damos atenção especial às ciências sociais – procurando entender como elas podem ser deslegitimadas pelo Estado e por grupos ideológicos ou religiosos. Um dos temas mais importantes é o que chamamos de ‘tradução de conhecimento’, ou seja, como o saber produzido nos campos científicos é convertido em recomendações para políticas públicas.
E como é esse diálogo no mundo árabe, entre acadêmicos e governantes?
Fiz uma pesquisa na Síria e analisei um período de uma década. Estudei alguns ministérios e notei que eles jamais encomendaram nenhum tipo de estudo científico. Isso nos mostra que os políticos são, digamos, autossuficientes; eles não precisam de conhecimento. E não há, em geral, comissões independentes para avaliar nada.
Outro ponto interessante: existia um tipo de fetichismo com relação às ciências básicas e aplicadas. Na Síria, nos anos 1990, mais de metade dos gabinetes ministeriais eram compostos por engenheiros. Eis a ideia por trás disso: os problemas sociais eram entendidos como uma questão de engenharia social. Esse cenário emerge em função da baixa demanda pelas ciências sociais. E também porque os próprios cientistas sociais muitas vezes, covardemente, não exercem o pensamento crítico.
Em suas palestras, o senhor tem dito que muitos processos políticos ocorridos na América Latina podem servir de exemplo à realidade do Oriente Médio. Por quê?
Sou assíduo defensor da internacionalização das ciências, incluindo as sociais e as humanidades. Todos devem conversar com seus pares, globalmente. Na universidade, ensino disciplinas relacionadas a mecanismos de transição democrática. E diria que 80% dos exemplos que uso em sala de aula são oriundos da América Latina. A história desse continente tem muito a nos ensinar.
Pensemos nos mecanismos da chamada justiça de transição, como processos judiciais, memória, verdade, reparação e reforma institucional. São mecanismos bastante complexos. Há diferentes receitas – muitas já usadas na América Latina – para suavizar a transição para a democracia. Esse é um exemplo importante de como a internacionalização das ciências sociais pode ser útil.
Mas, no campo da sociologia, muitos pesquisadores se preocupam mais com análises regionais do que globais. O senhor tem uma postura crítica diante dessa postura. Por quê?
Sou crítico à mitologia da singularidade. Em outras palavras: muitos pensam que um dado processo social, em determinado país, é único. E assim pesquisadores supervalorizam as especificidades de cada fenômeno social. Como prejuízo, abandonam o entendimento de possíveis regras gerais sobre o funcionamento da sociedade. Isso é especialmente válido nessa era de globalização. Pois estamos de fato interconectados.
Inúmeros problemas devem ser compreendidos tanto regional quanto internacionalmente: tráfico de drogas, organismos geneticamente modificados, distribuição de renda, consumismo. Há temas que transcendem a ideia de Estado nacional. São universais.
Poderia nos contar sobre suas origens e sobre sua experiência de vida no campo de refugiados de Chatila, no Líbano?
Nasci em 1962 e vivi por um quarto de século num campo de refugiados. Cresci em uma família de classe média baixa. E isso quer dizer que o único caminho de ascensão social é a educação. É essa a via pela qual muitos palestinos de minha geração optaram. Historicamente, esse é um dado importante: por essa razão, os palestinos acabaram sendo, em certo momento, o grupo mais instruído de todo o mundo árabe. Mas isso mudou.
As condições nos campos de refugiados eram precárias e não contavam com boas escolas, ou boas universidades. Além disso, não se encontrava trabalho. Era a reprodução de um esquema de pobreza. Conheço alguns cientistas sírios que vivem, hoje, em campos de refugiados. Estão na linha da pobreza e são excelentes físicos, químicos, antropólogos. Espero que outros países abram suas portas para eles. Essa diáspora, muitas vezes, pode acabar construindo novas e importantes conexões.
Enfim, na década de 1980, me mudei para a França. E lá comecei minha carreira internacional. Alguns acadêmicos que estudam campos de refugiados acabam sendo criticados – por não conhecerem de perto a realidade que analisam cientificamente. Bem, eu vivi num lugar desses por 25 anos. É o suficiente? [risos].
Cláudio Pinheiro
Programa Sul-Sul de Cooperação para Pesquisa sobre Desenvolvimento (Sephis)
Henrique Kugler
Ciência Hoje/ RJ